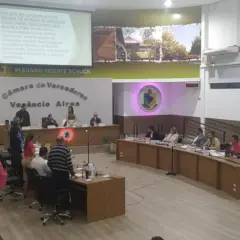Vivemos em um mundo conectado e isso não é novidade para ninguém. Mas, se pararmos para pensar um pouquinho, em espaços onde as informações estão facilmente disponíveis e de maneira cada vez mais rápida, os riscos de consumirmos notícias que não são verdadeiras também aumentam. Por isso, quando falamos em desinformação e fake news precisamos refletir sobre o que, de fato, essas duas palavras significam e quais sãos os impactos delas nas nossas vidas.
Para entender um pouco melhor sobre esse cenário e tentar traçar caminhos que nos ajudem a combater a desinformação, o Na Pilha! conversou com a doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e integrante do grupo de pesquisadores da Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD), Taís Seibt. Confira como foi esse bate-papo.
Na Pilha! – Ouvimos falar em desinformação e fake news. Existe alguma diferença entre esses dois termos?
Taís Seibt – A palavra desinformação tem sido utilizada em substituição à expressão ‘fake news’ devido à banalização desse termo no debate público, especialmente no meio político: quando uma informação desagrada ou contrapõe um candidato, ele diz que é ‘fake news’, e muitas vezes usa esse termo contra profissionais e veículos de imprensa. É importante destacar que um erro de informação, um engano, que às vezes pode até ser reproduzido por jornalistas por falhas no processo de apuração e revisão dos conteúdos, é diferente de ‘fake news’. Esse termo indica que há uma informação fraudulenta sendo difundida como se fosse verdade. Há intenção de direcionar a opinião pública para acreditar em algo que não é verdadeiro. Frequentemente, esses discursos utilizam o estilo noticioso, o que dá credibilidade ao conteúdo. Existem sites especializados nesse tipo de ‘fake news’. Quando falamos de desinformação, estamos falando também disso, mas o conceito é um pouco mais abrangente. Os autores que cunharam esse termo, sendo a principal representante a pesquisadora Claire Wardle, divide em três tipos de desinformação: há o discurso fraudulento que é compartilhado com a intenção de enganar, seria essa ideia mais geral de ‘fake news’ (disinformation, em inglês); há quem compartilhe um conteúdo enganoso ou falso sem saber que está difundindo desinformação, a pessoa de fato acredita na veracidade daquele discurso, acha que está fazendo um bem (misinformation); e há a informação que pode até ser genuína, mas é difundida com a intenção de causar dano, servem de exemplo o vazamento de dados íntimos e todo tipo de discurso de ódio (malinformation). Todos esses elementos prejudicam o discernimento da informação de qualidade no debate público, por isso muitos pesquisadores, como é meu caso, preferem trabalhar com o conceito de desinformação, em vez de ‘fake news’.
A tecnologia está cada vez mais presente na vida de jovens e esse tem se tornado o principal meio para eles acessarem informações noticiosas. Como conscientizar esse público a respeito da desinformação, para que eles também se tornem um canal de debate sobre esse assunto com as suas famílias?
São vários aspectos contidos nessa pergunta. Vou começar pelo fator tecnológico. É preciso ampliar a compreensão de todos os cidadãos sobre o que é a internet e as plataformas, como essas estruturas funcionam. Muitos cidadãos brasileiros dispõem basicamente de uma linha de telefone celular pré-pago com redes sociais ilimitadas. Isso significa que essa pessoa não tem, de fato, acesso à internet. Ela está restrita a navegar em aplicativos como Facebook, YouTube e outras plataformas de rede social, além de aplicativos de troca de mensagem, como WhatsApp. Mesmo que essa pessoa queira buscar informação em outras fontes, para comparar e verificar o que está vendo nesses espaços, ela vai ter uma barreira de acesso porque o plano de dados que ela tem não permite navegar em outras fontes de informação. Esse é um dos problemas, e isso passa inclusive por políticas públicas, que permitem a comercialização desse tipo de plano de telefonia, o que é bastante questionável. Outro ponto ainda sobre isso é que as plataformas não são neutras. O que vemos na nossa timeline é apresentado a cada um de nós conforme nossas preferências, ou seja, nós abastecemos os algoritmos com dados, a partir do que curtimos, comentamos, com quem interagimos, as mídias que assistimos, clicamos, etc. Esse algoritmo, que é um programa de computação que está por trás das plataformas, vai combinando essas informações para decidir, de acordo com minhas preferências, qual o próximo vídeo que vai aparecer na playlist do YouTube para eu assistir, por exemplo. Essa personalização pode ser bem atrativa do ponto de vista do entretenimento, mas quando se trata de informação, temos prejuízo, pois não há filtro de veracidade ou credibilidade, o único critério é o gosto do usuário. Se conseguíssemos chamar atenção de mais pessoas sobre o funcionamento das redes, talvez mais gente questionaria o que está recebendo e assimilando como verdade nesses espaços. Esse exercício é bastante difícil porque todos nós temos crenças e visões de mundo formadas de acordo com nossas referências, mas se não questionarmos nossas próprias crenças jamais vamos conseguir mudar nossas visões de mundo com base em fatos.
“Tem uma máxima bastante repetida que é ‘pense antes de postar’. O imediatismo da vida digital, onde tudo nos convida para a urgência – curtir agora mesmo, repassar para o maior número de contatos possível, e assim por diante – nos tira esse espaço de pensar, criticar, questionar.”
Levando em consideração a grande quantidade de conteúdo que circula pelas mídias sociais todos os dias, qual é o caminho para se combater a desinformação?
Falei bastante do papel dos algoritmos, das recomendações das plataformas, o que é, sim, um desafio que precisa ser enfrentado do ponto de vista tecnológico. Mas temos o elemento humano como parte do processo. Se houvesse um estágio anterior, um aviso do tipo “você tem certeza que quer compartilhar isso?”, talvez houvesse um freio. Então tenho dito que é preciso ativar um botão mental para frear esse processo. Muitas vezes passa pela nossa cabeça que uma atitude individual não faz diferença, mas isso é um erro. Se vários indivíduos tomarem a mesma atitude, podemos ter efeitos positivos. Por isso, um dos caminhos para combater a desinformação é a conscientização dos usuários, hoje muito fundamentada na educação midiática. Só que esse é um dos caminhos, são necessárias muitas frentes, que envolvem as plataformas, as políticas públicas, as regulamentações e também os usuários.
Se fala muito em verificação dos fatos. Como é possível tornar essa prática mais comum entre as pessoas e não apenas no universo do jornalismo?
No mundo digital, as fontes de informação estão disponíveis para todos, não apenas para jornalistas. Por isso, desenvolver a habilidade de crítica, analisar os conteúdos de forma reflexiva, é o primeiro passo. Contudo, há barreiras tecnológicas, como a disponibilidade de rede e de recursos de acesso, como já falamos, e a predisposição individual à checagem mesmo. Estimular iniciativas profissionais de checagem, inclusive em nível local, seria um caminho intermediário, pois daria opções para se encontrar informações verificadas, com transparência de fontes e métodos, de forma facilitada aos cidadãos.
Por que as pessoas acreditam em fake news?
Encontrar uma resposta para essa pergunta não é muito fácil. De acordo com a professora e pesquisadora Taís Sebib, existem alguns instintos ou vieses cognitivos que nos fazem acreditar no que acreditamos. “Fala-se muito do viés de confirmação, ou seja, quando vejo algo que confirma uma crença pré-existente, eu tenho a tendência de atribuir valor de verdade a isso. Então a pessoa pode facilmente acreditar naquilo que confirma que ela está certa”, explica.
Entretanto, há outros instintos que colaboram para isso, como o da urgência. “Quando é tudo para ontem, eu diminuo o tempo de reflexão, o espaço de crítica”, destaca. A doutora ainda menciona o medo como outro fator. “Aquilo que aciona nossos gatilhos, as incertezas que temos, nos torna mais vulneráveis. A indignação, o ódio, a paixão, todos os instintos mais viscerais também podem nos tornar míopes para reconhecer a desinformação e nos fazer acreditar em um conteúdo fraudulento”, avalia.
Como as escolas podem falar sobre desinformação?
Segundo Taís, há várias habilidades que abordam o tema educação midiática no currículo, desde a análise reflexiva de conteúdos midiáticos, até a interpretação de dados e gráficos, passando pela identificação de fontes de informação e, inclusive, a produção de conteúdos midiáticos como forma de expressão de ideias e aprendizados.
“Esses conhecimentos não se restringem a uma só disciplina, em todas as áreas de conhecimento há espaço para tratar desses assuntos. Diversas iniciativas têm se dedicado a orientar educadores para a educação midiática, realizando oficinas e produzindo materiais didáticos, como é o caso do EducaMídia, do Instituto Palavra Aberta, e da Lupa Educação, da Agência Lupa”, exemplifica.

“O bom jornalismo, aquele busca confirmar, certificar, validar as informações em fontes fidedignas é cada vez mais necessário.”
Fica a dica!
• Taís deixou uma dica valiosa, principalmente para professores que tiverem interesse de desenvolver mais atividades sobre o tema desinformação em sala de aula.
• A cartilha hipermídia postarounao.com.br disponibiliza vários recursos em texto e imagem, testes interativos e uma série de podcasts. Ela ainda comentou que para uma atividade mais específica, no e-book, disponível para download em PDF no site, há uma proposta de atividade na página 38. O material pode ser aproveitado, desde que se indique os créditos.
Você sabia?
A educação midiática hoje é parte das competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que dá as diretrizes para o trabalho dos professores no ensino básico.
O papel do jornalismo local
• De acordo com Taís Seibt, onde há menos espaços de referência e credibilidade, há mais chance de a desinformação se proliferar. Ela observa que, hoje, existem diversas iniciativas dedicadas exclusivamente à checagem de fatos, o chamado fact-checking. Contudo, a professora lembra que esses projetos são frequentemente mais focados em grandes temas e em assuntos nacionais e globais.
• Desta forma, nem sempre essas iniciativas conseguem alcançar as pequenas comunidades, principalmente no interior do Brasil, lembrando que nosso país é muito grande em território. “Por outro lado, as plataformas de rede social estão presentes nesses lugares, portanto a desinformação está aí. Onde esses usuários poderão encontrar conteúdos verificados? O jornalismo local de qualidade é um caminho para o combate à desinformação e precisa ser cada vez mais incentivado pelas comunidades”, ressalta.